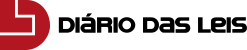A SERVIDÃO DE TRÂNSITO E O INSTITUTO DA PASSAGEM FORÇADA
Iuli Ratzka Formiga (*) I. Noções conceituais da servidão de trânsito A servidão de trânsito ou de passagem (servitus itineris) é um direito real de fruição instituído em favor do “prédio dominante” sobre o “prédio serviente”. Consiste, assim, no direito de transitar por prédio alheio. Vale dizer que o termo “prédio” utilizado pela lei civil tem o sentido de imóvel, rural ou urbano. II. Direito romano Conforme leciona Arnoldo Wald , a servidão nasceu “como direito acessório do direito de propriedade em favor do prédio dominante”. Na época pré-clássica receberam a denominação de jura praediorum. “Visavam corrigir desigualdades naturais existentes entre os diversos terrenos. No loteamento das terras, procurava-se manter a mesma área, mas não fora possível assegurar a identidade das condições dos diversos lotes, tendo alguns situação melhor do que outros, estando um devidamente irrigado e outro não etc. A fim de corrigir tais desigualdades prediais é que surgiram as servidões, ou seja, para restabelecer a igualdade, por um sistema de compensação entre os diversos prédios vizinhos” (1). Continua o mestre lecionando que os romanos conheceram as servidões rústicas e urbanas. Dentre as primeiras se encontravam as servidões de passagem e as de água. A de passagem, objeto deste estudo, possuía no dizer de Arnoldo Wald, três graus: “o iter, que permitia fazer um caminho pelo terreno alheio, a via, que autorizava manter uma estrada para carruagem, e o actum, abrangendo ambas as modalidades anteriores” (2). 1. Características a) direito real de fruição sobre coisa alheia. A servidão consubstancia-se em um direito real de fruição (gozo) sobre coisa alheia. O fato de tratar-se de um direito real (Código Civil, art. 1.225, III), torna a servidão um direito absoluto, sendo, portanto, oponível a todos (erga omnes). Conforme o magistério de Maria Helena Diniz, os direitos reais de fruição ou gozo são aqueles em que o “titular tem a autoridade de usar e gozar ou tão-somente usar de coisa alheia” (3). b) presença de proprietários distintos. O prédio dominante e o prédio serviente têm proprietários distintos, pois se existisse um único titular, esse poderia exercer a totalidade dos direitos decorrentes da propriedade, incluído aí o direito de uso e gozo. Segundo a lição de Arnoldo Wald, quando a mesma pessoa se torna proprietária do prédio dominante e do prédio serviente, a servidão transforma-se em serventia, ocorrendo a figura jurídica denominada confusão (4). c) constituição por ato jurídico. A servidão pode ser instituída tanto por ato inter vivos como por causa mortis. Deste modo, pode surgir do acordo firmado entre os proprietários dos prédios dominante ou serviente, ou através de doação, ou ainda através de testamento. Todavia, em todos os casos, necessário é o registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis (Código Civil, arts. 1.227 e 1.378; Lei 6.015/73, art. 167, I, 6). A aquisição pode se dar por ato gratuito ou oneroso em virtude do modo de sua constituição. d) instituição no processo judicial de divisão. Segundo o disposto no art. 946 do CPC, cabe ao condômino que pretende partilhar a coisa comum a propositura da ação de divisão. Neste processo serão instituídas as servidões que forem indispensáveis “em favor de uns quinhões sobre outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente” (CPC, art. 979, II). e) possibilidade de aquisição da servidão aparente por usucapião. Servidão aparente é aquela visível com uma simples inspeção ocular. Maria Helena Diniz elucida que “servidão aparente é aquela que se mostra por obras ou sinais exteriores (RT 568:193), que sejam visíveis e permanentes” (5). José Carlos de Moraes Salles, menciona que no tocante às servidões de trânsito, levantou-se dúvida sobre a possibilidade de serem adquiridas por usucapião. Isto porque, por se limitarem ao direito de passar, seriam não aparentes, só sendo passíveis de constituição por meio de título transcrito. Todavia, como demonstrou F. Mendes Pimentel, em estudo intitulado “Servidões de Trânsito”, publicado pela RF 40/296 e citado por Caio Mário da Silva Pereira, cabe a aquisição por usucapião se as “servidões de trânsito” se apresentarem ostensivas e materializadas em obras externas, tais como pontes, viadutos, trechos pavimentados e outros sinais visíveis. Dispõe, aliás, a Súmula 415 do STF, “verbis”: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (6). Outro exemplo de servidão aparente é aquela em que se identifica o caminho marcado no imóvel, seja através de uma cerca ou mesmo a trilha que se forma no chão em virtude das pessoas passarem sempre pelo mesmo local. Por conseguinte, de acordo com o tempo da posse e o preenchimento dos requisitos legais, a aquisição pode se dar por usucapião ordinário ou extraordinário. O prazo para aquisição por usucapião ordinário é de dez anos e por usucapião extraordinário é de vinte anos, nos termos do artigo 1.379 do Código Civil. Com relação ao usucapião ordinário, imprescindível é a boa-fé por parte do usucapiente e a existência de justo título, ou seja, nas palavras de José Carlos de Moraes Salles, “ato ou fato translativo que não produziu efeito, por padecer de defeito ou por lhe faltar qualidade específica para tanto” (7). O insigne jurista, baseado na lição de Orlando Gomes, apresentou três causas que impossibilitam a eficácia do ato que objetivou a transferência do domínio:” 1º) aquisição a non domino, ou seja, de quem não é dono do bem; 2º) a aquisição a domino , na qual, todavia, o transmitente não goza do direito de dispor ou transfere o bem mediante ato de pleno direito; 3º) o erro no modo de aquisição” (8). Convém salientar que quanto ao usucapião extraordinário é desnecessária a presença da boa-fé e do justo título. Todavia, caso se trate de um bem público não cabe o pedido de aquisição por usucapião, uma vez que “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião” (Código Civil, art. 102) Arnoldo Wald explica que “as servidões aparentes devem ser registradas; mas, quando oriundas de usucapião ou de direito hereditário, o registro só é probatório, e não constitutivo do direito” (9). Noções conceituais do instituto da passagem forçada Instituto de direito que guarda estreita relação com o instituto da servidão é o instituto da passagem forçada previsto no artigo 1.285 do Código Civil, que assim dispõe: Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo primeiro. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Parágrafo segundo. Se ocorrer alienação •••
Iuli Ratzka Formiga