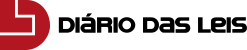COMPRA E VENDA AJUSTADA "AD MENSURAM" E "AD CORPUS"
Eulâmpio Rodrigues Filho (*) “No es por tanto irrevencia, disentir con la opinion de los grandes maestros...´David Lascano” (1) Nos primeiros tempos do período pré-clássico do Direito Romano, o comprador não tinha ação, com relação ao vendedor, para obter restituição do preço ou indenização, quando a coisa vendida não tinha as qualidades indicadas ou quando ocultado algum vício ou defeito que a desmerecesse. Igualmente, nessa fase, da idade do ferro do Direito Romano, não tinha ação para exigir do vendedor a diferença relativa à quantidade. Tempo em que a venda tinha como objeto a coisa como ela era. (2) A partir do advento da Lei das XII Tábuas (450 a. C.) o vendedor se tornou responsável, se constatada deficiência na extensão, desde que a aquisição se fizesse com previsão de cláusula adicional, via da qual ficasse garantida a medida declarada, ou em virtude de sua má fé. Se a extensão do imóvel alienado, através da “man cipatio”, não correspondesse à realidade, isto é, se fosse inferior à enunciada, o comprador podia intentar a “actio de modo agri”, que era ação civil, reconhecida com caráter penal, para reclamar do vendedor uma indenização equivalente ao prejuízo sofrido, ou ao seu dobro, caso provasse que o mancipante agira com dolo ao fazer a declaração acessória asseguradora da medida indicada. A fim de garantir o comprador, da evicção, ou se o imóvel declarado sem ônus fosse gravado com servidão, ao comprador era concedida a “actio auctoritatis”, a permitir-lhe demandar indenização correspondente ao dobro do preço da venda, caso não houvesse estipulação de restituição somente do preço, nesses casos. O prazo para a propositura de ambas as ações era igual ao do usucapião (de dois anos), pois expirado o tempo do usucapião, prescrito estaria qualquer direito. (3) É de lembrar que no período clássico, a tradição já integrava o sistema do Direito Romano, mas, somente para adquirir a propriedade das “res nec mancipi”, a propriedade das “res mancipi” e a propriedade provincial. No Direito de Justiniano (pós-clássico), a venda não mais se fazia pela “mancipatio”, que não foi recepcionada pela codificação, mas pela “emptio venditio”, e a venda tinha por objeto a entrega da coisa como devia ser. (4) Nesse período, pela tradição, que foi recolhida por Justiniano em sua compilação como instituição vigente, a propriedade passou a ser transmitida em todos os casos em que se verificassem a intenção e a justa causa exigidas pelo ordenamento jurídico. (5) A partir desse ponto, da compra e venda derivou uma “actio venditi”, em favor do vendedor contra o comprador; e uma “actio empti”, sancionadora dos direitos do comprador contra o vendedor. Ambas civis, pessoais e de boa fé, pois a compra e venda produz efeitos relativos ao vendedor e ao comprador. (6) A “actio empti” não tinha prazo para ser exercitada. Por ela demandava-se a entrega da coisa ou uma indenização equivalente ao prejuízo sofrido pelo comprador. No Direito aplicado no Brasil, anteriormente ao Código Civil (1917), não havia disposição de lei aplicável ao assunto e a doutrina não era pacífica. (7) Regia-se o caso pelo Direito Romano. Nessa época, a Ordenação do Livro 4, título 17, só ministrava regras sobre a compra e venda de coisas móveis e imóveis em que se verificasse um vício ou defeito oculto, ou a não-existência das qualidades declaradas no contrato. (8) Sendo omissa a lei, quanto à deficiência ou ao excesso na quantidade estipulada, o Direito Romano é que nos oferecia regras disciplinadoras dessa espécie. (9) Logo, até 1916, em pleno século XX, se houve proposição de alguma ação “ex empto” no Brasil, ela teve curso segundo as regras do Direito Romano. Conforme CLOVIS BEVILÁQUA, nesse tempo - do Direito anterior ao Código Civil - muito se discutiu quanto às obrigações do vendedor em hipóteses semelhantes. Tanto que, CORREA TELLES, em sua Consolidação, trazida a lume como Digesto Portuguez (10), no seu art. 288 do livro 3, proclama, à guisa de explicação da lei romana (L. 13. § 14. ff. de Act. empt. L. 45. ff. de Evict, Voet L. 18. T. 1. nº 7 “sic”), que se o imóvel foi vendido por determinado preço, a menção da área não dá direito ao comprador de pedir restituição ainda que na verdade a área não corresponda à enunciada no título. MAYNZ, “in” Pandectas, § 211 - que se prestou a muitos debates -, interpretando o mesmo ordenamento conclui, equivocadamente, em parte, que o vendedor é responsável pela falta de medida, mas que nenhuma reclamação pode fazer quando há excesso na quantidade entregue. CORREA TELLES baseia-se no princípio da boa fé, e na obrigação da entrega do que se acha delimitado, sem atenção à quantidade referida. Não há dúvida de que esse autor voltou, ao expor seu entendimento quanto à obrigação do vendedor de entregar a coisa tal como ela é, ao período pré-clássico do Direito Romano, quando ainda não se conhecia mesmo a “emptio venditio”. Em meio à discussão surge NOÉ AZEVEDO, de lúcido raciocínio, mas que, já em 1926, ao examinar o tema, no lugar de deter-se na norma codificada, buscou mostrar o erro de CORREA TELLES, através de ampla exposição, inútil, do Direito Romano, com base em trabalhos de LAFAYETTE e de OURO PRETO, datados de 1883, evidentemente superados à época. (11) O Código Civil brasileiro disciplinou a matéria de modo a desfazer todas as dúvidas que o Direito então vigente sugeria. Mas, nem por isso o assunto deixou •••
Eulâmpio Rodrigues Filho (*)