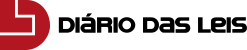A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. ANÁLISE DOS ARTS. 1.793 E SEGUINTES
I - INTRODUÇÃO Este trabalho visa a abordar a cessão de direitos hereditários no Código Civil (Lei 10.406, de 10/janeiro/2002), especificamente os artigos 1.793 a 1.795. O tema, na prática, tem gerado controvérsias e merece uma abordagem. Temos de rever noções de alguns institutos básicos do Direito Civil, o que será feito no correr do texto. Contudo, a fim de não o alongar, trataremos de maneira sucinta sem que percamos de vista o nosso objetivo de aclarar a cessão de direitos hereditários, expressamente contemplada no Código Civil de 2002. Propositadamente, esclarecemos ao leitor que os artigos citados são do Código Civil em vigor, e quando se tratar de norma revogada, haverá clara menção ao Código Civil de 1916. Assim sendo, evitamos a adoção das expressões Novo Código Civil, NCC, novo Código Civil e outras designativas do Código das Pessoas, que de novo nada mais tem, eis que vigente e bem estabelecido. II – DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA Abre-se a sucessão “causa mortis” com o falecimento do autor da herança. Esta, pelo princípio da saisine (1), defere-se imediatamente aos herdeiros do de cujus, independente de terem ou não ciência da morte do autor da herança (art. 1.784, Código Civil). O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel por dicção legal (art. 80, II, Código Civil). Mesmo que o acervo se constitua exclusivamente de bens móveis, ou de direitos pessoais, ou de ambos, enquanto não individuados com a partilha, considerar-se-ão imóveis, por ficção jurídica. Da mesma forma, por disposição legal, defere-se a herança como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros (art. 1.791, caput, Código Civil). E o direito dos co-herdeiros será indivisível, até que se ultime a partilha (art. 1.791, par. único, Código Civil). A doutrina já indicava a indivisibilidade no Código Civil de 1916, exposta no seu art. 1.580, in verbis: “Sendo chamadas simultaneamente, a uma herança, duas ou mais pessoas, será indivisível o seu direito, quanto à posse e ao domínio, até se ultimar a partilha.” A respeito do Código Civil de 1916, Washington de Barros Monteiro leciona que: “A indivisibilidade, a que se refere o legislador, diz respeito ao domínio e posse dos bens hereditários, abrangendo todas as fases da vida do direito sucessório, todos os seus acidentes e transformações, desde a abertura da sucessão até que, pela partilha, se concretizem os quinhões.” (2) Sílvio Rodrigues coaduna desse pensamento, dispondo que na legislação de 1916: “A herança é uma universalidade iuris, e a lei, contemplando a hipótese de existirem dois ou mais herdeiros, declara que o direito dos mesmos, quanto à posse e ao domínio daquela, é indivisível até se ultimar a partilha.” (3) Este autor continua, afirmando o seguinte: “De fato, o patrimônio e a herança são coisas universais (CC, art. 57), e como tais, se pertencerem a mais de uma pessoa, cada um dos condôminos daquela universalidade é titular de uma parte ideal do todo e jamais de qualquer dos bens individualizados que compõem o acervo.” (4) Orlando Gomes, tratando da indivisibilidade da herança, acordando em uns pontos, discordando em outros, leciona que, tendo em vista o Código Civil de 1916, “O estado de indivisão existente até a partilha não consubstancia a herança num todo unitário, valendo, para os créditos e débitos, o princípio de que se dividem ipso jure entre os co-herdeiros pela respectiva quota.” (5) Atualmente, por expressa disposição legal (art. 1.791, caput, Código Civil), a herança é transmitida como um todo unitário, não importando o número de herdeiros. E será indivisível, regendo-se pelas normas atinentes ao condomínio (art. 1.791, par. único, Código Civil). Sílvio Rodrigues, tratando do Código Civil de 1916, já dispunha que se aplicavam à hipótese as regras do condomínio (6). A indivisibilidade hereditária não é tema novo. No Direito Romano encontrávamos a disposição, segundo descreve Paul Jörs: “Se observa por lo dicho que la herencia, de primera intención, pasaba a los coherederos como uma universalidad indivisa. En tal estado podía persistir y los herederos beneficiarse de ella y explotarla en común.. .; pero también podían exigir su división, que se llevaba a efecto por la actio familiae herciscundae” (7). III – ARTIGOS 1.793 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL Etimologicamente, cessão provém do latim cessio, onis, que significa a ação de ceder, cessão, transferência. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery conceituam a cessão de direitos hereditários como sendo: “o negócio jurídico inter vivos celebrado, depois de aberta a sucessão (CC 1784), entre o herdeiro (cedente) e outro co-herdeiro ou terceiro (cessionário), pelo qual o cedente transfere ao cessionário, a título oneroso ou gratuito, parcial ou integralmente, a parte que lhe cabe na herança” (8). Pelo art. 1.793, caput, Código Civil, o legislador confirma o entendimento de que o direito à sucessão aberta pode ser cedido. Observe que se trata de direito à sucessão aberta e não direito à sucessão futura – hereditas non addita non transmittitur (9) -, eis que qualquer contrato que envolva herança de pessoa viva é vedado e, portanto, nulo – hereditas viventis non datur (10) (arts. 426 e 166, VII, Código Civil). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, comentando o art. 1.793 do Código Civil, afirmam que: “Desde a morte do autor da herança, seus herdeiros já são proprietários e possuidores, independentemente de qualquer outra providência. Assim, podem dispor desses direitos hereditários, cedendo-os a outros herdeiros ou mesmo a terceiros, observadas as limitações impostas na sucessão (v.g., cláusula de inalienabilidade), bem como as condições da norma sob comentário e do direito de preferência do CC 1794” (11). Da mesma forma, sob pena de nulidade (art. 166, IV, Código Civil), pela letra do art. 1.793, caput, Código Civil, requer seja feita a cessão por meio de escritura pública, o que já era recomendado pelos doutrina-dores, em comento ao Código Civil de 1916 (12). Saliente-se que se faz indispensável a outorga conjugal, sob pena de anulação do negócio jurídico, exceto se o regime do casamento for o da separação absoluta (art. 1.647, I, Código Civil), devendo esta ser dada na própria escritura de cessão, em observância ao art. 220 do Código Civil. Do mesmo modo, em se tratando de cessão onerosa de ascendente para descendente, há necessidade do consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante (13), que deverá ser dado também na própria escritura (art. 220, Código Civil), sob pena de anulabilidade do negócio, conforme preceitua o art. 496 do Código Civil. Nada obstante este artigo fale em “venda”, deve-se entender todo e qualquer ato oneroso de disposição. Observe-se igualmente que o art. 496, Código Civil, fala em descendentes. Logo, em se tratando de filho pré-morto, os herdeiros deste passam a integrar a herança pelo chamado direito de representação, previsto no art. 1.851, Código Civil. Assim sendo, os netos do autor da herança (no caso em tela o cedente) deverão integrar a escritura pública, ao lado dos demais descendentes, tecnicamente como intervenientes, a fim de consentirem na cessão onerosa. As dificuldades práticas têm se apresentado nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do art. 1.793, Código Civil. Diz o § 2º do art. 1.793, Código Civil: “É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.” Sobre o tema dos planos de existência, validade e eficácia do fato/negócio jurídico, importante é a lição de Antônio Junqueira de Azevedo, in verbis: “Fato jurídico é o nome que se dá a todo fato do mundo real sobre o qual incide norma jurídica. Quando acontece, no mundo real, aquilo que estava previsto na norma, esta cai sobre o fato, qualificando-o como jurídico; tem ele, então, existência jurídica. A incidência da norma determina, como diz Pontes de Miranda, sua entrada no mundo jurídico. O fato jurídico entra no mundo jurídico para que aí produza efeitos jurídicos. Tem ele, portanto, eficácia jurídica. Por isso mesmo, a maioria dos autores define o fato jurídico como o fato que produz efeitos no campo do direito” (14). Caio Mário da Silva Pereira leciona que “a validade do negócio jurídico é uma decorrência da emissão volitiva e de sua submissão às determinações legais” (15). E completa, afirmando: “Inversamente, se o agente se não conformou com elas, falta à declaração a condição a priori, para que atinja o resultado querido. Inválida, lato sensu, quando é contrariada a norma, isto é, quando foram deixados sem observância os requisitos indispensáveis à sua produção de efeitos, seja por ter o agente afrontado a lei, seja por não reunir as condições legais de uma emissão útil de vontade” (16). E explica a ineficácia stricto sensu como sendo: “a recusa de efeitos quando, observados embora os requisitos legais, intercorre obstáculo extrínseco, que impede se complete o ciclo de perfeição do ato. Pode ser originária ou superveniente, conforme o fato impeditivo de produção de efeitos, seja •••
Samuel Luiz Araújo (*)